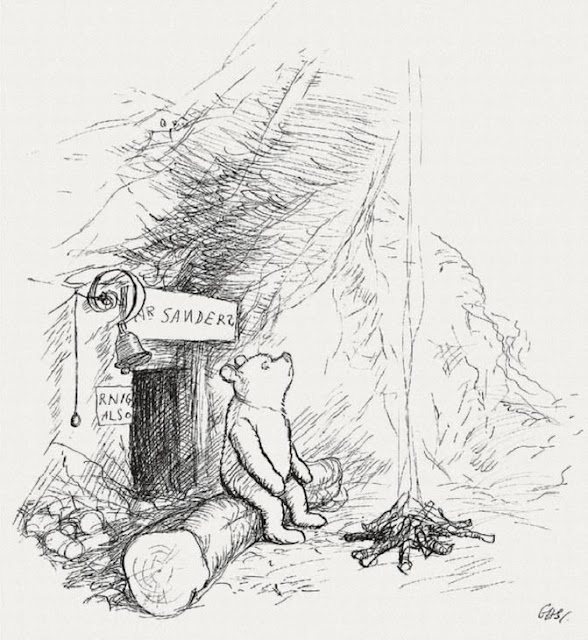A menina
A
Menina

Foi
numa gostosa manhã de sexta-feira, de 23 de dezembro de 2000, por
volta de seis e trinta da manhã, o sol tinha acabado de nascer,
quando a bela mocinha sentou-se ao meu lado no ponto de ônibus. Não
sei dizer de onde ela surgiu, pode ser que de alguma comércio,
esperando sua mãe enquanto ela fazia as compras pro café da manhã.
Ou Talvez morasse ali por perto.
Sorri,
tentei ser gentil sem assustá-la.
-
Olá, mocinha. Bom dia – disse em tom amigável.
A
resposta veio em forma de um estonteante sorriso. Ela aparentava ter
uns 4 ou, talvez, 5 anos – não mais que isso. Vestia um vestido
cheio de flores, assim como minha avó materna (minha avó era do
tempo que toda mulher devia usar vestido, era coisa de mulher séria
- casada. E naquele tempo, as estampas floridas eram a moda). Era
bonitinho nela, parecia que vestia um pequeno jardim florido. Os
sapatos combinavam com o vestido, tinha o mesmo tom de branco, com
uma fivela levemente azulada prendendo os pés. Isso me lembrou a
época em que eu era um menino e minha mãe me vestia sempre com
roupas de bolinhas roxas. Não gostava, me sentia uma hematoma
ambulante, mas fingia gostar. Afinal de contas era minha mãe, e mães
sempre fazem o melhor que podem por seus filhos. Né? A menina era
loira, tinha cachos que pareciam ser de ouro puro, e muito
brilhantes. Presos delicadamente por uma travessa de com adorno
florido. Tinha que ser, né? Tudo isso combinado a um rostinho
angelical, faria qualquer pessoa se apaixonar na hora – o qu foi o
meu caso. Ela era linda. A mais bela mocinha que já vi.
-
Tô esperando meu busão – disse
sem olhar pra ela, como se falasse sozinho. -
Como é seu nome?
A
respondeu veio novamente com um sorriso.
-
Sei. Sei. Você não pode falar com estranhos, né? Acho uma coisa
boa essa dica da sua mãe.
A menina Assentiu.
-
Sou Nodes. Sou policial militar – disse e dei o sorriso mais
carinhoso que consegui fazer até hoje. Tentava convencê-la a falar
comigo. Mas acho que tinha sido muito bem treinada pela mãe. E eu
poderia ser um bandido se passando por um policial, que poderia
sequestrá-la e levá-la para casa: para amá-la, abraçá-la e
apertá-la, até ela me amar (risos).
Balançou
a cabeça para frente e para trás, gesticulando um “olha que
bacana, tio”.
-
Acho que já pode falar comigo. Já sabe quem eu sou – disse
olhando outra vez pra frente, de cabeça baixa. Tentava parecer um
pouco triste. Mas só um pouco. Isso sempre convencer as crianças.
Elas sentem dó de adultos que choram, fazem a gente parecer
indefesos como elas.
Ela
balançou a cabeça para direita e para a esquerda, negando.
-
Não é assim que funciona, seu bobo – disse me corrigido. A ideia
de parecer um pouco triste não tinha funcionado. Mas a ideia de me
apresentar e depois achar que isso bastava para fundamentar nossa
amizade, de certa forma, foi plantada no coraçãozinho dela, e a
convenceu.
Ou
não. Logo saberia a verdade.
-
Como assim? - perguntei me fazendo de sonso. Acompanhei a ideia de
que eu era um bobo mesmo. Isso lhe parecia uma coisa boa, e não
perigosa, como um sequestrador de crianças ou de um assassino em
série.
-
Só por que eu sei seu nome, isso não quer dizer que somos amigos –
disse. Era pequena e frágil, mas guando falou, urra!, com sua
vozinha de bebe, passava a impressão de ser um adulta. Adulta numa
mente de criança.
-
Verdade. Você tem toda razão – eu disse. - Mas sou policial, isso
me dá um certo crédito que outras pessoas não tem, e me torna uma
boa pessoa, um mocinho. Certo?
A
resposta surpreendente:
-
Hoje em dia, não mais. Tem um monte de policial vagabundo por ai –
disse apontando o dedo para cima, pontuando a frase. - É o que minha
mãe sempre diz. - Olhou pra mim, olhou pra minha roupa. - Outra
coisa, policiais usam aquelas uniformes cor de coco de bebê.
Eu
ri alto, foi muito engraçado tais palavras saírem da boca dela. Me
encarou, achou que eu era meio doido.
Eu
disse:
-
Verdade mesmo, Maria – falei usando o primeiro nome que me veio a
mente. Era o primeiro nome da minha falecida mãe. - Verdade.
Me
olhou, ergueu os ombros, pôs a mão na cintura e disse meio
aborrecida:
-
Não sou Maria. Não, senhor – a voz dela estava indignada. - Meu
nome é Joanna. J-O-A-N-N-A, viu. Com dois enes.
Acho
que ela me achou meio burro, além de um grande bobão.
-
Poxa, vida. Desculpa, J-O-A-N-N-A: Joanna. Eu achei de verdade que
seu nome era maria. Não sei em que estava pensando.
Pareceu
aceitar minhas desculpas. Mas era uma menina muito esperta para sua
idade. E com certeza, ela manjou minha mentirinha para arrancar seu
nome. Mas pareceu não se importar.
-
Muito bem, bobão. Aprende rápido. Levei dois dias para soletrar meu
nome.
Eu
balancei a cabeça afirmando. Depois disse:
-
Minha mãe dizia que sou inteligente. – isso era verdade. Quado
garoto, eu sempre aprendia as coisas muito facilmente. Fui um garoto
muito esperto até minha adolescência, acho que até a quinta série,
dai pra frente fiquei burro. E minha mãe tinha notou isso desde
cedo. - Mas sou só um pouquinho.
Eu
fiquei um pouco triste de verdade dessa vez. Lembrar de minha mãe
sempre me doía muito. E lembrar dela quando eu ainda era criança,
me fez volta àqueles dias bons, quando ela ainda era viva, quando a
dor da perda ainda não existia. Senti meus olhos começarem a
lacrimejar. Mas segurei como pude as lagrimas.
A
menina pegou no meu braço, tentando me consolar. E disse:
-
As mães sempre têm razão. Sempre. Mesmo quando estão erradas. -
isso era verdade mesmo. Todo criança que teve a oportunidade de ser
criado pela mãe sabe do que ela estava falando. Mães tem um tipo de
poder de convencimento natural. Elas dizem “isso aqui é uma
pedra”, mesmo sendo um pedaço de pau. E você pergunta “mas
porque, mãe, se isso é um pau? Por que é.
Simples assim. Por que eu quero. Oras”,
ela responde.
-
E os pais? - disse puxando conversa. Tinha achado o ponto fraco dela.
Mas eu sabia a responta. Ou achava que sabia.
Revirou
os olhos, como se a resposta fosse obvia, e disse:
-
Eles são uns bobos. Todos eles. Só pensam em trabalho, cerveja e
futebol. Mamãe sempre diz isso à amiga dela, a Raimunda. Ela é
meio burrinha e mamãe tenta ajudar quando vê que ela vai fazer
alguma besteira.
-
Que tipo de besteira, Joanna? - dessa vez, eu disse certinho o nome
dela: J-O-A-N-N-A. Quando falou imaginei ela ouvindo as duas
conversando e Joanna ao lado ouvindo tudo. Meu deus, que coisas
medonhas essa criança deve ter ouvida dessas duas loucas?
Sorriu
e respondeu.
-
Do tipo fazer bebês. - os pés balançavam. E continuou: - Já tem
três e não aprende. Poxa que mulher estupida. - Isso deve ter sido
copiado da boca da mãe, com certeza absoluta.
Quanto
mais eu conversava com ela, fui detectando de onde via sabedoria
adulta. Era coisa que tinha aprendido de ouvido da mãe maluca.
Mas
para meu alívio, o ônibus dobrou a esquina, olhei e me levantei.
Ufa!
Ainda bem, pensei comigo mesmo, não sabia o que dizer sobre isso –
mulher sem noção. Fiquei até com um pouco de vergonha alheia, do
tipo quando um amigo peida em publico e ri alto, todo mundo olha e
ele pergunta “por que você não riu?”. Que mulheres doidas,
falando coisas de adulto perto de crianças.
-
Tchau, mocinha. Até amanhã.
Não
disse nada novamente. Mas acenou um tchau alegre,
acompanhado
de outro lindo sorriso.
Entrei
no ônibus e pude ouvir ela dizer alguma coisa que... de alguma forma
não pode ter sido real.
Ela
disse:
-
Sua mãe
gostava de lhe chamar de
Nildinho.
Nodes
é apenas
seu
apelido, seu
bobo.
A
fitei pela janela até não poder vê-la mais, ainda acenava o tchau.
Acabei com a cara cara colada no vidro.
Mas
isso não pode ter sido real.
Eu estava dentro do ônibus, a
porta estava
fechada.
Várias pessoas conversavam
– uma mulher resmungava que ia chegar atrasada, que o patrão era
muito chato com horários; outro dizia, maldito dia para o carro
quebrar, maldito dia. Entre
outros ruídos que unidos faziam um grande zunzunzum.
Pode
ser
que
as
palavras ditas pela menina tenham
sido
pura
invenção da
minha mente. Eu posso ter criado tais lembranças de
alguma fora.
Mas tenho certeza que não. Todavia
não
sei explicar como ela falou comigo sem mover os lábios, somente
olhava
pra mim.
Ela
me
deu o
último sorriso
de
um
doce
adeus.
A
viagem toda fiquei pensando em como ela poderia ter feito aquilo.
Telepatia, ele era um tipo de criança multante? Isso explicaria como
ela sabia de coisas tão pessoais. Controle da mente? Isso não era
possível. Era um fantasma e podia falar comigo sem mover os lábios
de onde quisesse? Senti um certo medo, um arrepio subiu pela minha
espinha e atingiu meu pescoço. Eu tremi. Tudo isso me torturou o dia
todo. Quase não consegui trabalhar. Eu rezava para o dia acabar.
Assim chegaria em casa jantaria e acordaria cedo para vê-la de novo.
Porém,
no dia seguinte e nos demais em que
precisei ir até aquele ponto de ônibus,
eu chegava
até
mais cedo para encontrar
e falar
com ela. Eu
tinha muitas perguntas a fazer.
Mas nunca mais a vi. Aquilo
era um pouco estranho. Perguntei por ela, nas lojas ali perto. Se
alguém a conhecia
ou a mãe dela.
Se a tinham visto por ali alguma
vez.
Não tinha como não
tê-la
visto. Era uma bela mocinha de
cabelos
tão
loiro que pareciam
ser
de
uma
boneca.
Mas nada. Não
consegui nenhuma resposta.
Ninguém nunca a viu. Ela era um fantasma. Ou eu tinha tido uma
alucinação maluca.
Não
sei. Ela, com o passar do tempo, de alguma forma, lembrou minha mãe.
Verdade. Acho que foi minha mente outra
vez me pregando peça. Ou
foi a saudade das duas.
Não
sei.
-
Mas foi muito conhecer você, Joanna. E obrigado pela visita.
Um
sorriso agradecido surgiu.
-
Tchau, Nildinho.
nodes2016.02